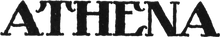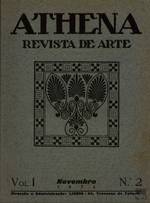

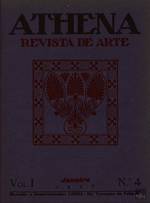

Athena
Entre Outubro de 1924 e Junho de 1925 cumpre-se a curta parábola de Athena – Revista de Arte mensal. Saíram apenas 5 números, mas foi o bastante para eternizar, no panorama modernista português, um projecto que trará a lume, pela primeira vez, os nomes dos heterónimos Alberto Caeiro e Ricardo Reis, nove anos depois da estreia de Álvaro de Campos, enquanto engenheiro e poeta sensacionista, no primeiro número de Orpheu.
Dirigida em “coabitação” por Fernando Pessoa, responsável pela parte literária, e Ruy Vaz, como director da secção dedicada às artes plásticas e à arquitectura, incluía reproduções de desenhos, quadros e gravuras de artistas de épocas passadas e contemporâneos como Tiepolo, Lino António, Mily Possoz e Manuel Maria Bordallo Pinheiro.
Athena contou com a colaboração de alguns velhos membros órficos como Luiz de Montalvor, Almada Negreiros, Raul Leal, Mário de Sá-Carneiro (a quem é consagrado o n.º 2) para além de outros poetas e intelectuais com laços de amizade e vínculos afectivos muito fortes a Fernando Pessoa: António Botto, Augusto Ferreira Gomes, Mario Saa, Castello de Moraes e Henrique Rosa, irmão do padrasto e seu mentor nos anos da juventude.
É, todavia, graças aos abundantes contributos inéditos assegurados pelo próprio Pessoa, como autor ou tradutor, e pelos seus três heterónimos, que a revista suscitou o maior interesse.
De facto, Ricardo Reis assina 22 odes em Athena 1 enquanto Álvaro de Campos confirma as qualidades de prosador contundente já exibidas em 1917 em Ultimatum, com três artigos: “O que é a Metafísica?” no número 2, onde o autor inaugura uma discussão com a linha editorial da revista e “Apontamentos para uma Estética Não-Aristotélica”, “Apontamentos para uma Estética Não-Aristotélica II”, publicados nos números 3 e 4, respectivamente. Alberto Caeiro revela-se ao mundo em Athena 4 com 22 poemas de O Guardador de Rebanhos e em Athena 5 assina 16 poemas inconjuntos.
Em entrevista ao Diário de Lisboa, em 3 de Novembro de 1924, Fernando Pessoa explicava que o objectivo da publicação era:
“Dar ao público português, tanto quanto possível, uma revista puramente de arte, isto é, nem de ocasião e início como o Orpheu, nem quase de pura decoração como a admirável Contemporânea.”
Este conciso parágrafo deixa subentender nas entrelinhas que o empreendimento de Athena, nascido como uma alternativa neoclássica no campo das revistas literárias da época, não pretendia ser apreciado apenas pelo seu aspecto formal, mas sim ser um espaço de reflexão teórica; de balanço do itinerário percorrido desde Orpheu e de apresentação de novas e cada vez mais eclécticas correntes estéticas dentro do primeiro modernismo português.
O compromisso que Pessoa sentia ter e quis assumir como director prendia-se com a necessidade de avaliar a própria vanguarda iniciada na década anterior e com o intuito de tornar o periódico no órgão promocional do neopaganismo português de acordo com um plano esboçado 4-5 anos antes: dedicar-se à explanação da própria heteronímia como sistema labiríntico de poetas incumbidos de fazerem arte “superior” ou “suprema”, cada um à sua maneira.
Em relação ao primeiro pressuposto, o editorial ortónimo que abre o n.º 1 de Athena serve de preâmbulo ao tipo de modelo cultural e artístico que a revista preconiza resgatar. Piscando o olho ao classicismo apolíneo e horaciano de Ricardo Reis, por um lado formaliza um desvio radical do “dionisismo” da fase órfica, por outro procura demonstrar as relações intrínsecas da arte com a metafísica, considerada esta como ciência:
“Se é lícito que aceitemos que a alma se divide em duas partes — uma como material, a outra puro espírito —, diremos de qualquer conjunto ou homem hoje civilizado, que deve a primeira à nação que é ou em que nasceu, a segunda à Grécia antiga. Exceptas as forças cegas da Natureza, disse Sumner Maine, tudo quanto neste mundo se move, é grego na sua origem. Estes gregos figuraram em a deusa Athena a união da arte e da ciência, em cujo efeito a arte (como também a ciência) tem origem como perfeição (...) é pois ao nível da abstracção que a arte e a ciência, ambas se alçando, se conjugam, como dois caminhos no píncaro para que ambos tendam. É este o império de Athena, cuja acção é a harmonia. Não se aprende a ser artista; aprende-se, porém, a saber sê-lo. (…) Cada um tem o Apollo que busca, e terá a Athena que buscar.”
No que concerne ao papel e à função da “arte superior” no interior de uma cultura, é paradigmático um breve fragmento, intitulado Athena, com toda a probabilidade contemporâneo à revista homónima, onde Pessoa hierarquiza três tipos de arte, acompanhando‑os das respectivas finalidades:
“O fim da arte inferior é agradar, o fim da arte média é elevar, o fim da arte superior é libertar. Mas a arte média, se tem por fim principal o elevar, tem também que agradar tanto quanto possa; e a arte superior, se tem por fim libertar, tem também que agradar e que elevar, tanto quanto possa ser [...]. Elevar e libertar não são a mesma coisa. Elevando-nos, sentimo-nos superiores a nós mesmos, porém por afastamento de nós. Libertando-nos, sentimo-nos superiores em nós mesmos, senhores, e não emigrados, de nós. A libertação é uma elevação para dentro, como se crescêssemos em vez de nos alçarmos.”1
Nas passagens encimadas, Pessoa está evidentemente em diálogo consigo próprio e com o já referido ensaio de abertura no primeiro número de Athena quando aí assevera que a arte constitui um auto-aperfeiçoamento do indivíduo, ao passo que, indirectamente, a ciência constitui o aperfeiçoamento da sua concepção e conhecimento do mundo. E está também e sobretudo a interagir idealmente com T. S. Eliot e o seu magistério: recuperar e reunir, integrando-os em contextos actuais, conteúdos de pensamentos éticos, morais, religiosos e estéticos, pertencentes ao património da Tradição, quase sempre entendida por engano como alguma coisa de estático, caduco e obsoleto, ou como a rota oposta ao caminho que leva ao novo e ao original, e que ao invés representa a plataforma de onde se parte para alcançar o novo por conhecer. Como de facto Eliot declarará em dois ensaios capitais “se o nosso problema é construir o futuro, nós somente podemos fazê-lo a partir de materiais do passado; devemos usar a nossa hereditariedade, ao invés de negá-la”2 porque “ao perder de vista a tradição, nós perdemos o contacto com o presente”3.
Antonio Cardiello
Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias, ed. Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho, Lisboa, Ática, 1967, p. 30.↩︎
Thomas Stearns Eliot, “The humanism of Irving Babbitt”, in Essays ancient and modern, London, Faber and Faber, 1936, p. 80.↩︎
Thomas Stearns Eliot, “The possibility of a poetic drama”, in The sacred wood. Essays on poetry and criticism, New York, Barnes and Noble, 1928, p. 62.↩︎